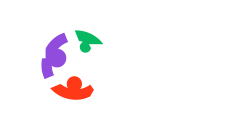A volta de Donald Trump à Presidência dos EUA trouxe muitas incertezas, mas há poucas dúvidas de que, ao longo do tempo, teremos mais tarifas e restrições comerciais. Uma das justificativas apresentadas para essas medidas é a necessidade de conter o crescente déficit em conta-corrente. Mas isso deveria ser uma prioridade? E, se sim, qual seria a forma mais eficaz?
Para responder a essas questões, é preciso voltar a um conceito básico de macroeconomia: o saldo da conta-corrente, que é a diferença entre a poupança interna e o investimento doméstico de um país.
Quando um país investe mais do que poupa, precisa se financiar no exterior —o que se reflete em déficits recorrentes na conta-corrente.
Déficits, por si só, não são necessariamente um problema. Quando financiados com recursos destinados a investimentos produtivos, podem contribuir para aumentar o PIB potencial. O risco, entretanto, surge quando o desequilíbrio persiste por muitos anos ou quando o capital é direcionado ao consumo, acumulando passivos externos e aumentando a vulnerabilidade do país.
O caso norte-americano é emblemático. Nos últimos 25 anos, seu déficit em conta-corrente ficou, em média, perto de 3% do PIB. Paralelamente, o déficit orçamentário federal do governo (equivalente à poupança negativa do governo) alcançou cerca de 6% do PIB, resultado do avanço dos gastos obrigatórios, especialmente com Previdência e saúde. Para zerar o déficit em conta-corrente, sem sacrificar o nível de investimento, os EUA teriam de elevar sua taxa de poupança em cerca de 3% do PIB —o equivalente a quase metade do déficit fiscal atual. Certamente esse feito não poderá ser endereçado apenas com tarifas.
A taxa de poupança das famílias também preocupa. Após décadas com níveis superiores a 10%, entre 1960 e 1980, essa taxa média caiu fortemente, atingindo recentemente menos de 4% —um patamar bastante baixo se comparado a outras economias desenvolvidas. Um desaquecimento forte do mercado de trabalho, um aperto relevante do crédito ou uma perda significativa da riqueza dos americanos (via queda do mercado acionário, por exemplo) poderiam aumentar essa taxa a curto prazo, mas não parecem ser um caminho desejável.
Além dos fatores internos, elementos externos também influenciam a persistência dos déficits em conta-corrente. A China, por exemplo, mantém uma política que reprime o consumo interno e estimula a poupança, contribuindo para o seu superávit comercial, que, em parte, acontece à custa de déficits de países inundados com produtos mais baratos. Ainda assim, o superávit chinês representa apenas cerca de um terço do déficit comercial norte-americano.
Dentro desse contexto, há propostas de membros do novo governo que vão além das tarifas. Uma delas é a tributação de ativos carregados por estrangeiros, com o argumento de que a hegemonia do dólar atrai capital global em excesso, apreciando a moeda e alimentando o déficit comercial. No entanto, se tirada do papel, essa ideia seria um tiro no pé, visto que os EUA são o único país que consegue manter altos déficits em conta-corrente sem deteriorar a sua moeda justamente por ter uma reserve currency (ativo seguro).
Se os investidores avançarem significativamente na diversificação em relação ao dólar, enquanto economias como Europa, China e Canadá firmam novos acordos comerciais entre si, os EUA poderão sair mais fracos dessa disputa.
A agressividade da política tarifária e de outras restrições, de fato, tende a induzir uma queda no consumo e a aumentar a poupança, contribuindo para a redução do déficit. Mas será que essa deveria ser realmente a prioridade?
LINK PRESENTE: Gostou deste texto? Assinante pode liberar sete acessos gratuitos de qualquer link por dia. Basta clicar no F azul abaixo.