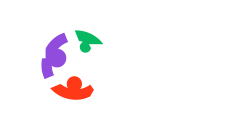Independente dos ventos geopolíticos que sopram no mundo, as tragédias climáticas no Brasil se acumulam. Enchentes no Sul, secas no Norte, tempestades em São Paulo —todas mais frequentes e intensas. As evidências se multiplicam: estamos no centro de uma emergência climática.
A ONU aponta duas frentes fundamentais de atuação: mitigação (redução de emissões de gases de efeito estufa) e adaptação (resposta aos impactos). Por anos, adaptação foi o “primo pobre” do debate climático. A crença dominante era que mitigar bastaria para evitar o pior. Não funcionou. A realidade impõe outra lógica: adaptar é indispensável.
Nesse contexto, o governo federal abriu consulta pública para os Planos Setoriais de Adaptação, que recebe contribuições até 25 de abril. Em um mundo instável, uma certeza se impõe: o clima está mudando, e precisamos nos preparar para eventos extremos de baixa frequência e alto impacto —os HILF (High Impact, Low Frequency ou alto impacto, baixa frequência). Justamente por serem raros, são difíceis de prever —e ainda mais difíceis de enfrentar e gerenciar. É esse o papel que os planos deveriam cumprir: reduzir a ignorância que leva ao despreparo, ceifa vidas e destrói ativos.
No setor de energia, o plano parte de uma base promissora —nossa matriz é majoritariamente limpa. Mas essa força é também vulnerabilidade: hidrelétricas e biocombustíveis tendem a ser mais afetados pela mudança do clima. Temperaturas mais altas reduzem a eficiência e ameaçam infraestruturas e equipamentos, além de elevar a demanda por eletricidade. O plano identifica dez riscos climáticos prioritários e propõe 35 ações e 17 metas, com foco em garantir oferta, acesso e infraestrutura resiliente, além de uma estrutura de governança.
Apesar disso, há lacunas. Falta clareza sobre como transformar o planejamento. Reconhece-se a necessidade de fazer diferente, mas não se indica o caminho. Resiliência exige lidar com riscos difíceis de prever. É nesse contexto que dados de qualidade, bons modelos e inteligência artificial se tornam aliados indispensáveis. São eles que permitem identificar vulnerabilidades e elaborar estratégias baseadas em risco. Por isso é tão grave que em tempos de inovação e IA o plano fale pouco sobre o potencial tecnológico para ampliar nossa capacidade de antecipação e resposta.
Há outra lacuna: a justiça climática está presente no discurso, mas o plano evita responder a uma pergunta dura: quem paga a conta? Regiões e grupos mais vulneráveis tendem a sofrer mais. O financiamento do setor tem se apoiado mais nos consumidores –via subsídios cruzados que pressionam as tarifas– do que no contribuinte. E isso dificilmente mudará. Em tempos de restrições fiscais, responder a desastres com benefícios generalizados pode ser populismo caro —e ineficaz.
Adaptação precisa passar pelo crivo da racionalidade. É essencial que o setor público e os reguladores definam critérios claros: quais investimentos fazem sentido? Quais são custos-efetivos? Quais entregam a resiliência que vale a pena? Essas perguntas são ainda mais urgentes em um país com déficits de acesso e diante da necessidade de modernizar redes elétricas —espinha dorsal de um futuro descarbonizado.
Há caminhos virtuosos na evolução para o futuro. A descentralização energética alia mitigação e adaptação. Recursos distribuídos —como solar, eólica, baterias e resposta da demanda —aumentam a segurança e autonomia do sistema. Mas precisam caber no bolso. E não podem repetir o modelo de subsídios cruzados mal desenhados de uma Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) que cresceu de R$ 1 bilhão quando foi criada, em 2003, para mais de R$ 40 bilhões em 2025.
A consulta pública é uma oportunidade. A adaptação não é mais opção ou faculdade. Mas ainda falta responder às perguntas centrais: como entregar resiliência —e quem paga por ela?
LINK PRESENTE: Gostou deste texto? Assinante pode liberar sete acessos gratuitos de qualquer link por dia. Basta clicar no F azul abaixo.